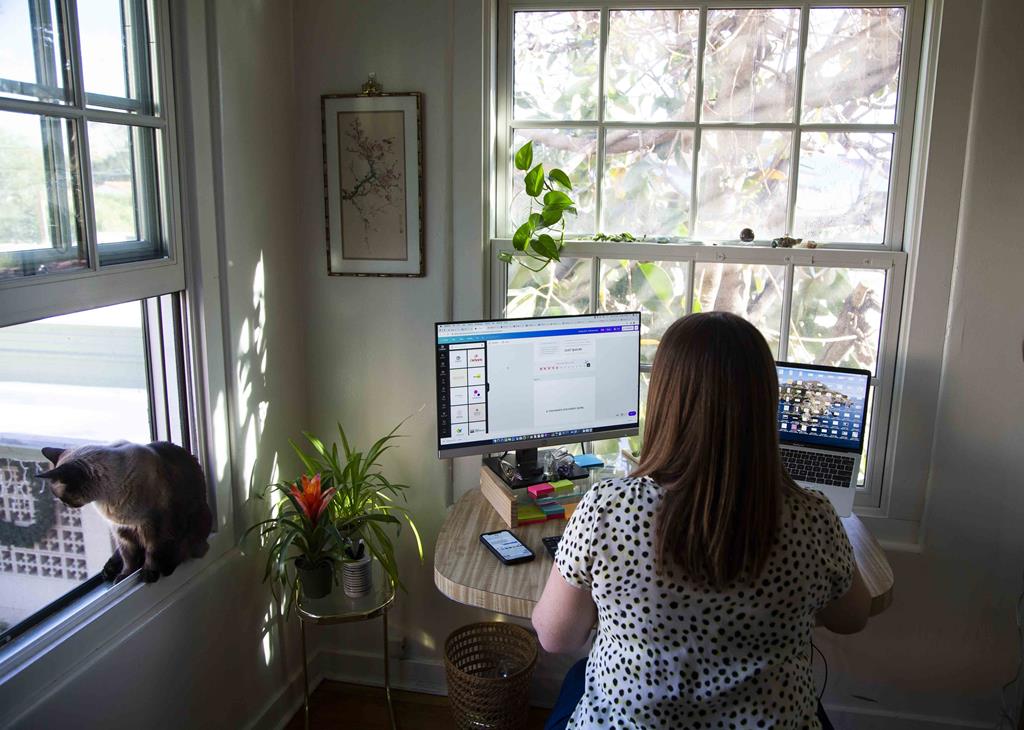Um escritório ou qualquer local de trabalho é um ecossistema em miniatura. Há sempre uma hierarquia, seja esta explícita ou não, e dinâmicas de poder entre colegas. No jargão empresarial, cada firma tem a sua “cultura”: a forma como se posiciona no mercado, como trata os seus trabalhadores, e os cuidados e benefícios que lhes atribuiu. Mas, porventura, esta linha de pensamento é demasiado simplista para exprimir o que um escritório resume em 2021.
Nos dias que correm, estes espaços são, acima de tudo, um destino e ponto de encontro, em tudo semelhante à fábrica no período da revolução industrial. No caso particular dos profissionais qualificados, são um lugar onde se vai trabalhar cinco dias por semana. Desde o início da pandemia, muitos portugueses que puderam continuar a trabalhar a partir de casa acordaram para este facto – o que não vai facilitar a vida às entidades patronais agora que o teletrabalho deixará de ser obrigatório a 14 de junho (salvo os municípios que recuem no desconfinamento).
Dir-se-á que com o regresso à rotina, regressam os velhos hábitos e problemas. Antes disso, em todo caso, ainda será preciso saldar contas com a pandemia, as mudanças que esta impingiu e as infrações laborais cometidas sob o véu deste tempo excecional. Primeiro virão os inquéritos internos das empresas, e, só mais tarde, os estudos científicos. Para já, há os testemunhos.
O caso de Rita Pinto é paradigmático. Quando a Covid-19 chegou a Portugal, trabalhava há pouco mais de três anos num "contact center" que pertence a um grupo de clínicas dentárias. Enquanto mãe solteira e cuidadora de uma idosa e doente crónica, viu no teletrabalho a prancha de salvação para continuar a ganhar o seu salário “em segurança”. Por imposição do Governo, a lei estava do seu lado. E os seus instrumentos de trabalho eram básicos: um computador e uma boa ligação à internet.
Em março do ano passado, como milhares de portugueses, foi para casa, mas em junho, mal o Governo deu um aberta no teletrabalho obrigatório, a empresa quis obrigá-la a regressar. “Entreguei várias declarações para que pudesse manter-me em casa, em segurança, declarações essas de doente crónica, de cuidadora da filha, de o agregado familiar ser de alto risco, para que me fosse possível continuar a trabalhar em casa, uma vez que já tínhamos estado, no mês de março e abril, em casa”, diz.
A clínica fez ouvidos moucos ao pedido. Foi sempre “negado”, nunca lhe foi dada uma justificação por escrito. Tentou falar com a coordenadora da equipa, mas foi ignorada. Foi-lhe pedido para expor a situação por email. Nunca obteve resposta. “Tive o meu patrão a dizer diretamente que ‘o perigo estava em ficarmos em casa com as criancinhas’ e que nós ‘devíamos era todos ter de ficar infetados’”, conta. A única reunião que conseguiu foi com a responsável de recursos humanos da empresa, alguém que “nada tinha a ver com a situação e que não podia fazer grande coisa a não ser transmitir a informação”.
O escritório onde Rita trabalhava tinha apenas 60 metros quadrados, mas lá dentro conviviam 25 pessoas. “Não havia separação alguma de secretárias, estamos a falar em ilhas de quatro, com pessoas lado a lado”, diz. A trabalhadora viu-se, por isso, obrigada a não trabalhar, com a justificação de dar auxílio à família.
Logo a 2 de junho, Rita fez queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). A resposta só veio três meses depois, a 10 de setembro, e apenas para confirmar que a queixa tinha sido registada. “Face à situação de facto denunciada, mais se informa que estes serviços registaram a queixa apresentada para intervenção no local assim que tal se revele oportuno, considerando a planificação da atividade determinada por esta Autoridade, as prioridades constantes do referencial da atividade inspetiva e os recursos disponíveis”, lê-se na resposta, a que a Renascença teve acesso.
Depois, já em dezembro, quando o teletrabalho já havia voltado a ser obrigatório, Rita foi contactada pela ACT. Mas já não havia nada a fazer. “Percebi que eu própria não queria mais fazer parte da empresa, porque estava a ir contra muito dos meus princípios e daquilo em que acredito enquanto ser humano. E pensei que não podia continuar a fazer parte de uma empresa que não olhasse para os seus trabalhadores como pessoas. Achei que tinha que pôr um ponto final”, diz.
A Renascença questionou a ACT, em mais de uma ocasião nos últimos meses, sobre o número de queixas relativas ao incumprimento das regras estabelecidas pelo Governo; o número de empresas fiscalizadas; e quantas irregularidades foram detetadas nessas inspeções. Todavia, não foi possível obter resposta.